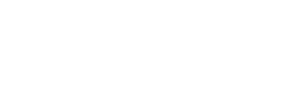Indígenas de Roraima enfrentaram maior dificuldade de acesso e hesitação na vacinação contra a COVID-19 em comparação com a população não-indígena
Relações históricas de poder, discriminação e vulnerabilidade social são fatores que afetam o acesso a condições básicas de vida como a saúde da população indígena brasileira. Segundo dados da ONU, os povos indígenas representam quase 19% das pessoas extremamente pobres no mundo e têm uma expectativa de vida até 20 anos menor que pessoas não indígenas. Com maior risco de adoecimento, os povos originários ficaram mais expostos à Covid-19, e os índices de vacinação contra a doença permaneceram baixos, principalmente no norte do país, onde se localiza Roraima, estado em que os indígenas constituem 15% da população.
Para compreender a cobertura, perfil dos vacinados, oportunidade, taxa de abandono vacinal e verificar barreiras no processo de imunização, a enfermeira epidemiologista Daniela da Silva Santos desenvolveu a pesquisa “Cobertura e oportunidade da vacinação contra Covid-19 nos indígenas de Roraima”. O trabalho analisou o comportamento da imunização entre 2021 e 2023, dentro dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs), no contexto urbano e na zona rural. Pioneiro em avaliar a oportunidade vacinal na Amazônia, o estudo revelou que o leste de Roraima demonstrou a maior agilidade e completude vacinal, alcançando 35% de cobertura em apenas 67 dias. Este tempo contrasta com a vacinação dos indígenas urbanos (373 dias) e dos Yanomami (965 dias). A região do Leste também se destacou pelo menor índice de atraso vacinal (cerca de 55,17%), inferior aos Yanomami (aproximadamente 73%) e aos indígenas urbanos (79,24%). Cerca de 10% dos vacinados no DSEI Leste completaram o esquema em uma média de apenas 19 dias.
A pesquisa contabilizou 120.312 doses aplicadas em 59.321 indígenas. Em relação à faixa etária, constatou-se que a proporção aumentou com a idade: apenas 15% crianças indígenas foram vacinadas com a primeira dose e apenas 10% com a segunda, com proporções iguais entre sexos. O perfil dos vacinados mostrou que as mulheres se destacaram na segunda dose, o grupo de 25 a 59 anos na primeira e os idosos na segunda. Contudo, 33% dos indígenas (20.062) não retornaram para a segunda dose. Entre os tipos de vacinas, a Coronavac (primeira a entrar no calendário vacinal) foi o imunizante mais usado, representando 59% das aplicações, seguido pela Pfizer, com 35%.
A análise de proporção no DSEI Yanomani, leste de RR e indígenas urbanos, mostrou que 84,44% das doses foram aplicadas em indígenas não-urbanos (DSEIs). Já no cenário urbano, Bonfim, Mucajaí, Boa Vista e Uiramutã destacaram-se na primeira dose, com Bonfim, Uiramutã e Mucajaí mantendo o destaque na segunda.
Entre as principais barreiras à vacinação identificadas pela pesquisa, a desinformação aparece como o fator mais comum, representando 50% dos obstáculos. Em seguida vieram: a desigualdade social/marginalização/racismo (26,9%), barreiras políticas, culturais e de educação (11,5%), e problemas logísticos (7,69%).
O estudo observacional, descritivo e retrospectivo, avaliou a vacinação por faixa etária, sexo e localidade. Foram incluídos indígenas urbanos (15 municípios) e não-urbanos (71 polos-base, com 37 Yanomami, dos quais 24 estavam no Amazonas, e 34 no leste de Roraima). Para calcular a cobertura vacinal, a pesquisa utilizou dados secundários de vacinação do Open Datasus, dados demográficos e malhas municipais do IBGE, e informações populacionais por polo da SESAI.
PRODUÇÃO CIENTÍFICA - A tese desenvolvida por Daniela gerou três artigos que apresentam os resultados do estudo. O primeiro foi publicado na Revista Núcleo do Conhecimento, o segundo, em processo de submissão à revista da ABRASCO, e o terceiro foi aprovado para publicação na Revista do SUS (RESS).
Os achados da pesquisa destacam a necessidade de adaptar as estratégias à dinamicidade e especificidades de cada DSEI. A baixa cobertura entre indígenas urbanos e os péssimos índices da população Yanomami (agravados pelo fechamento de polos-base) indicam vulnerabilidade e falhas sistêmicas. Para reverter esse quadro, segundo Daniela, é fundamental fortalecer a articulação entre equipes de saúde, gestores, SESAI, e demais órgãos para promoção da saúde indígena. Entre as ações com esse fim estão o investimento na melhoria da captação de dados, sistemas de informação e adaptações dos serviços às necessidades específicas dessa população.
Estratégias como a criação de planos logísticos para zonas de conflito ou de difícil acesso e a captação ativa de população flutuante também são cruciais. “Acima de tudo, o sucesso da vacinação exige um comprometimento de todos os níveis de gestão, com o desenvolvimento de abordagens adaptáveis (que respeitem cultura, lideranças e língua) para superar as barreiras locais de acesso. Meu intuito, com esse trabalho, foi dar maior visibilidade aos indígenas, servindo como ponto inicial para outras pesquisas, em outras regiões. Contribuindo para melhorias assistenciais e norteando estratégias para gestores e políticas públicas”, pontuou.
O trabalho foi desenvolvido no âmbito do Programa VigiFronteiras-Brasil/Fiocruz, sob a orientação do professor dr. Paulo Cesar Basta e coorientação da professora dra. Andréa Sobral de Almeida e do professor dr. Paulo Victor Viana, todos da ENSP/Fiocruz.
* Crédito da imagem: Marcelo Camargo/Agência Brasil